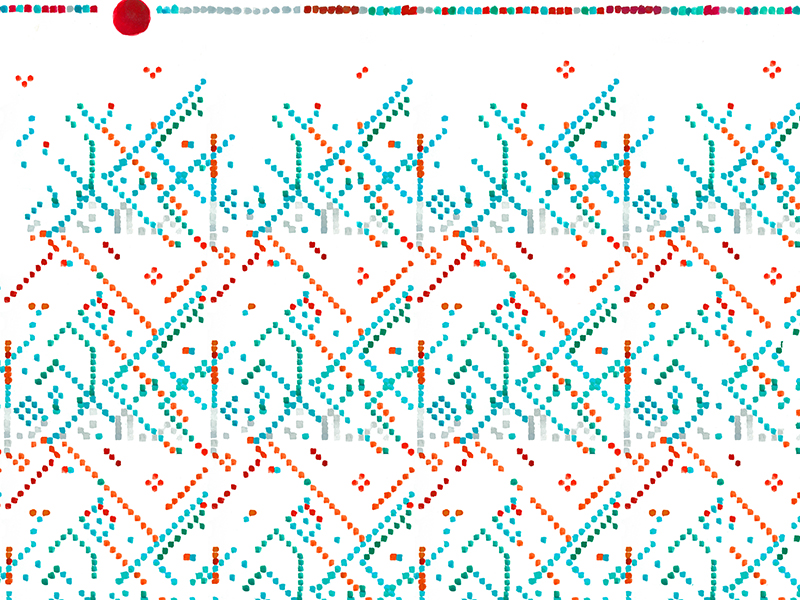Ou sobre como aprendi a suportar a irreversível e inviolável dor de perder um grande amor
Acho que a primeira reação que tive quando me disseram pelo telefone que você tinha morrido foi a de atirar o celular na parede. Pensando em retrospecto e voltando a um instante para o qual absolutamente evito voltar, foi exatamente essa a reação. Seguida de um grito que veio de alguma parte muito profunda de mim. Um grito ancestral, carregado de tanta força que deve ter sido ouvido a alguns quilômetros de distância. Aí, lembro de ter perdido a capacidade de permanecer em pé. Foi quando me ajoelhei, ou mais precisamente fui deixando meu corpo cair até ficar de joelhos e ser dominado por um pranto agudo. Era sexta à noite e eu estava sozinha em casa, meu objeto de desejo tinha ido ao show do Pearl Jam no Morumbi. Fiquei em casa porque o único tumulto que suporto é o da torcida do Corinthians, e também porque naquele dia, desde que o sol se pôs, senti a estranha vontade de meditar. Como você sabe, esse tipo de vontade nunca existiu em mim. Mas ela veio forte a partir do instante em que aquela noite de 4 de novembro chegou. E eu fiquei em casa fazendo isso sem saber que era justamente essa a hora em que um motoqueiro estava levando você daqui, de mim, de todos nós.
Era uma sexta-feira linda: quente e ensolarada. O pôr do sol deve ter sido sublime. Não vi porque estava meditando, mas certeza que você, enquanto corria no Ibirapuera, viu esse pôr do sol. Seu último pôr do sol foi tipo uma encomenda. Imagino como você estava feliz correndo no parque, naquele dia tão, tão espetacular, na véspera de fazer 40 anos. Devia estar cheia de energia, visitada pelos mais belos anjos e pensamentos e sonhos. Então, quando o telefone tocou por volta das dez da noite e trouxe a notícia estapafúrdia, minha primeira reação foi de raiva. O barulho do celular se estatelando na parede foi forte, mas quando consegui me erguer e pensei que deveria ligar para alguém porque eu estava respirando com dificuldade e talvez precisasse de ajuda, lembrei que provavelmente já não tinha mais um aparelho que funcionasse. Mas a vida é engraçada até quando é trágica: o mesmo aparelho que um dia tive que inutilizar depois de uma topadinha de nada, arremessado com toda a força contra a parede estava agora intacto e só por isso consegui falar com minha mãe.
Os anjos entre a gente
Imagina isto. Entre todas as pessoas, foi minha mãe – aquela que teve que aprender a amar você, a respeitar o nosso relacionamento e, depois, foi capaz de entender que alguns amores são tão profundos que não terminam quando duas pessoas deixam de dividir a mesma casa – que veio me agasalhar. O Morumbi lotado não dá sinal para celular, você sabe, então só algum tempo depois minha mulher pegou o recado. Não sei como ela entendeu, porque eu não falei, eu simplesmente gritei enquanto chorava. E quando não estava mais sozinha em casa fui varrida por uma letargia nunca antes vista. A raiva saiu de mim e o que ficou foi uma sensação de ter morrido junto com você: não conseguia me mexer. Meu objeto de devoção perguntou se eu queria ir ao IML, e eu balancei a cabeça positivamente. Não sei como tive força para colocar um par de sapatos, descer as escadas, abrir a porta do carro, entrar. Mas foi apenas quando cheguei ao IML que ouvi da boca de sua mãe o que, só 500 dias depois, faria sentido. “Aceita.” Foi isso o que ela me disse. E repetiu, segurando meus ombros com as duas mãos: “Aceita, Milly”.
Que tipo de anjo é a sua mãe? Claro que a gente sempre soube que de terráquea ela não tinha muita coisa, mas nunca imaginamos chegar a esse nível de constatação. Então ali estava diante de mim a mulher que carregava a maior de todas as dores do universo, sabendo havia poucas horas que uma das filhas tinha morrido, e era ela que me dava colo e perspectiva. “Aceita, Milly.”
Para aceitar a vida
Naquela madrugada eu não queria sair do IML. Eu sabia que ali ficaria perto de você, de uma forma bizarra, então não quis sair. E, quando todos foram embora para providenciar o que faltava, entre caixão e outros absurdos, fiquei sentada no banco olhando as cores escuras e sombrias de uma noite despropositada. Do meu lado, minha mulher segurava em minha mão apenas para dizer que ela estava ali, ainda que soubesse que eu não percebia as coisas em volta de mim, e não perceberia pelos próximos meses. “Aceita.” Mas como aceitar a morte de uma pessoa de 39 anos que vivia a fase mais espetacular da vida? Como aceitar que a mais corintiana entre os corintianos fosse embora sem ver nosso quinto título nacional, que aconteceria precisamente um mês depois? Como aceitar que uma das mentes mais brilhantes e originais e criativas de nossa geração, alguém que calculava prédios enormes e tocava violão e estudava as coisas do céu e da terra, simplesmente não pudesse mais correr no parque num fim de tarde qualquer? Sentada no banco do IML, eu simplesmente não entendia essas coisas. E, durante os dias que se seguiram, estados de letargia e raiva se alternavam em mim. “Aceita.” As palavras de sua mãe me martelavam a cuca, mas ainda não faziam nenhum sentido.
Só que aí, um dia, e nem dá para saber exatamente qual dia, eu entendi. E nessa hora a dor mudou de status. Não que ela tenha perdido a força, isso não acontece. Aliás, é uma dor que ganha força todos os dias no instante que abro os olhos na cama e a primeira coisa que penso é: ela não está mais aqui. Mas não é mais aquela dor que dilacera e angustia e paralisa. Agora é doce, misturada a saudade apenas. Nos dias que parece que a saudade não vai caber penso em você fazendo alguma graça, fico mais leve e consigo até rir.
Depois de tanto pranto, de tanta raiva, de tanta revolta, de tanta letargia, me parece que tudo o que eu tinha que aceitar não era bem a morte, mas a vida. Talvez este seja o segredo: aceitar a vida. Porque ela te bate, te nocauteia, te assola, mas saber aceitar seu ritmo, e toda a dor que vem com ele é também abrir uma portinha para conseguir sentir em cores mais fortes. Esperar menos, amar mais. Isto apenas: esperar menos e amar mais. Amar a ponto de conseguir lidar com a distância, com a falta de notícias, com o absurdo, com o desconhecido, com a morte – e com a vida. Era o que sua mãe tentava me dizer naquela noite, e que agora eu finalmente entendi.
| *A carioca Milly Lacombe, 45 anos, já exercitou sua paixão pelo futebol no SporTV e na Record, como comentarista esportiva. Também já colaborou com diversas revistas e com o portal Terra, mas gosta mesmo é de escrever livros em seu apartamento em São Paulo, onde mora com duas cadelas e uma gata. Seu e-mail: millylacombe@gmail.com |